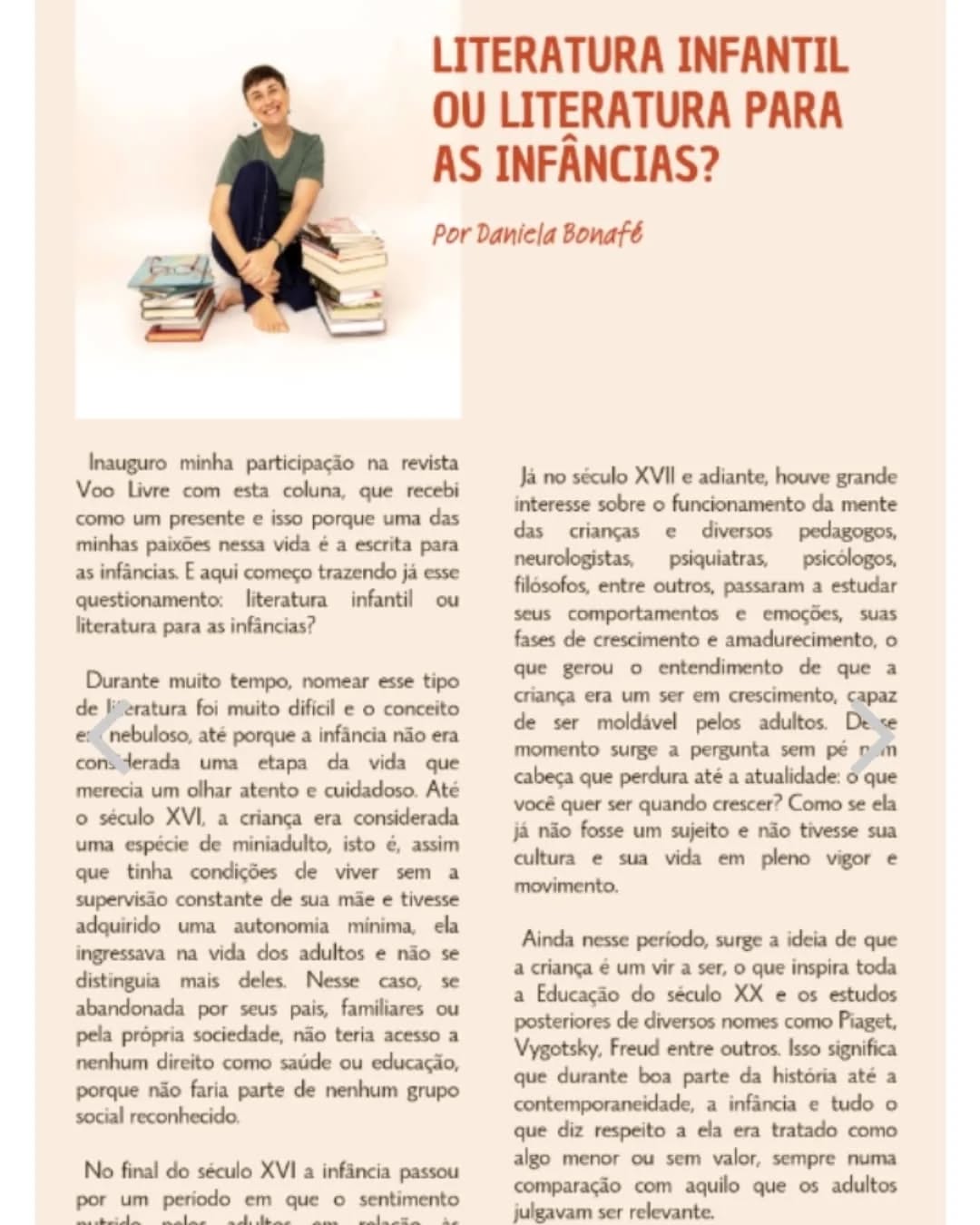Literatura Infantil ou Literatura para as Infâncias?
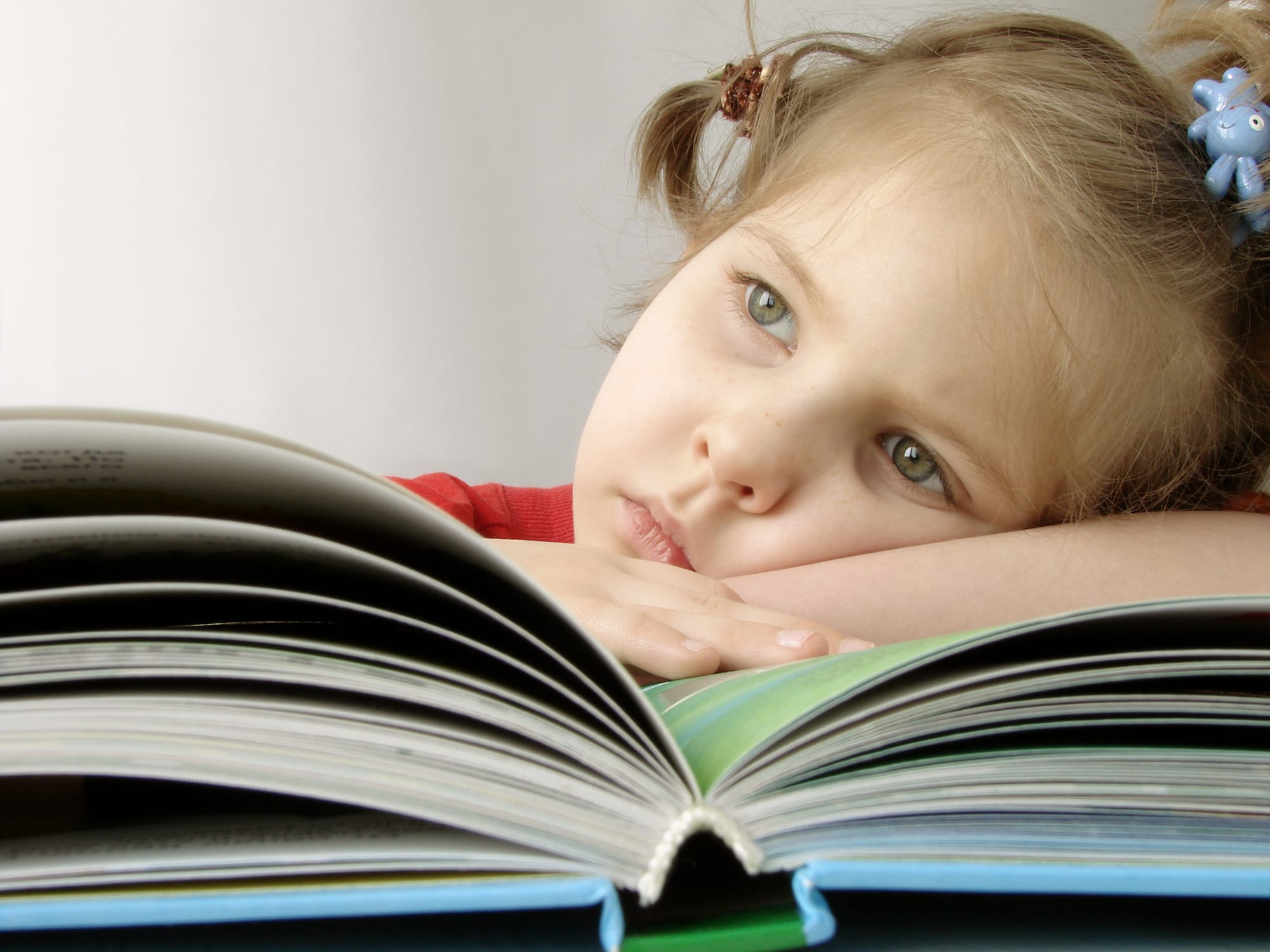
Inauguro minha participação na revista Voo Livre com esta coluna, que recebi como um presente e isso porque uma das minhas paixões nessa vida é a escrita para as infâncias. E aqui começo trazendo já esse questionamento: literatura infantil ou literatura para as infâncias?
Durante muito tempo, nomear esse tipo de literatura foi muito difícil e o conceito era nebuloso, até porque a infância não era considerada uma etapa da vida que merecia um olhar atento e cuidadoso. Até o século XVI, a criança era considerada uma espécie de miniadulto, isto é, assim que tinha condições de viver sem a supervisão constante de sua mãe e tivesse adquirido uma autonomia mínima, ela ingressava na vida dos adultos e não se distinguia mais deles. Nesse caso, se abandonada por seus pais, familiares ou pela própria sociedade, não teria acesso a nenhum direito como saúde ou educação, porque não faria parte de nenhum grupo social reconhecido.
No final do século XVI a infância passou por um período em que o sentimento nutrido pelos adultos em relação às crianças era o da paparicação. Como se a criança fosse um entretenimento e tivesse que atender aos desejos dos adultos, ela deveria ser gentil e graciosa. A ingenuidade, típica da primeira infância, era vista como uma distração, especialmente para familiares, que se divertiam às custas das experiências das crianças da família. É possível apreciar essas referências imagéticas em obras de arte produzidas no período medieval.
Já no século XVII e adiante, houve grande interesse sobre o funcionamento da mente das crianças e diversos pedagogos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, filósofos, entre outros, passaram a estudar seus comportamentos e emoções, suas fases de crescimento e amadurecimento, o que gerou o entendimento de que a criança era um ser em crescimento, capaz de ser moldável pelos adultos. Desse momento surge a pergunta sem pé nem cabeça que perdura até a atualidade: o que você quer ser quando crescer? Como se ela já não fosse um sujeito e não tivesse sua cultura e sua vida em pleno vigor e movimento.
Ainda nesse período, surge a ideia de que a criança é um vir a ser, o que inspira toda a Educação do século XX e os estudos posteriores de diversos nomes como Piaget, Vygotsky, Freud entre outros. Isso significa que durante boa parte da história até a contemporaneidade, a infância e tudo o que diz respeito a ela era tratado como algo menor ou sem valor, sempre numa comparação com aquilo que os adultos julgavam ser relevante.
Soma-se a essa breve contextualização prévia, a consideração imperiosa de que o conceito de infância surge com o nascimento e fortalecimento do capitalismo. Com o surgimento da classe burguesa após a Revolução Industrial, é possível perceber que as classes econômicas mais abastadas podiam manter suas crianças dependentes, enquanto a classe trabalhadora mantinha as crianças produzindo, assim que estas alcançavam certa independência. Dentro da lógica capitalista, a criança que não produz se mantém sem opinar e numa relação assimétrica de direitos, enquanto a criança que produz deixa de ser criança. Em seguida, a construção da infância passa a estar intimamente relacionada com a escolarização, que surge dentro do sistema capitalista como forma de atender às necessidades de produção e de formação de mão-de-obra.
Tudo isso para dizer que se nem a infância tinha seu lugar ao sol até pouco tempo atrás, imagine a literatura produzida para ela! Portanto, é de se esperar que até hoje essa literatura seja diminuída, assim como quem a produz. Não é novidade para nós, autores e autoras, a escuta de que escrever para crianças é fácil, como se esse ofício não demandasse trabalho e estudo e como se nossa atuação não tivesse prestígio. Também não à toa, é possível encontrarmos livros de toda a sorte de conteúdo para esse público, porque há sim quem escreva para as crianças como se essas fossem apenas receptoras e não cabeças pensantes, que criam cultura.
A definição de Literatura Infantil, como toda a literatura cujo endereçado é a criança, ainda impera socialmente. Nessa concepção, o locutor ou emissor adulto escreve para um receptor criança, considerando que esse receptor ainda não possui todas as estruturas linguísticas, intelectuais e até afetivas totalmente desenvolvidas. E ouso dizer que talvez seja exatamente nesse lugar, nessa janela, que se inserem escritoras e escritores que julgam poder escrever qualquer coisa para as crianças, sem atenção para a qualidade e camadas do texto - já que acreditam que as crianças não serão capazes de avaliá-lo - ou pior, sem um olhar para as reais necessidades e desejos delas em relação à leitura.
Penso que é exatamente o contrário: a delimitação do conceito deveria se dar pelas próprias crianças, isto é, a classificação do que é ou não literatura para as infâncias deveria ocorrer a partir do que as crianças de fato leem com prazer e utilidade, para diversão ou ainda com outros propósitos pessoais que apenas e tão somente cada uma delas sabe explicar, não por imposições externas. E completo propondo uma mudança: que o termo Literatura Infantil seja usado mais apropriadamente para nomear as produções literárias das próprias crianças, ou seja, aquilo que elas escrevem.
Daniel Munduruku, escritor que admiro muito, diz que não escreve literatura infantil ou livros para crianças. Ele afirma que sua literatura é para as infâncias e justifica sua fala trazendo uma ideia que é muito bonita: todos nós adultos, novos ou velhos, carregamos também dentro de nós a infância. E um livro lido por uma criança pode ser lido por um adulto e ressoar nele, em cantos seus quase esquecidos. Que me desmintam os adultos que releram “O Pequeno Príncipe”, “Meu Pé de Laranja Lima”, “A Árvore Generosa”, “Marcelo, Marmelo, Martelo”, “A Bolsa Amarela” e tantos outros clássicos lidos durante os anos saudosos de meninice!
Sim, você já argumentou mentalmente: mas o contrário não é possível!
De fato, um livro para adultos poderá não ser lido por uma criança porque pensar as infâncias significa levar em conta suas especificidades e aspectos literários relacionados ao texto e ao objeto livro, como a linguagem, a fonte, o conteúdo, a forma, etc. A escrita de uma literatura para as infâncias pede uma autoria consciente de sua responsabilidade, que se preocupe com as crianças e portanto, pense em acesso ao livro, mediação de leitura e tudo o mais que concerne a esse universo, mas, acima de tudo, uma autoria que se lembre de sua própria infância e que ainda brinque com sua criança interior.
Finalizo indicando a leitura do livro “Coisas de Índio", versão infantil, de Daniel Munduruku. A leitura é indicada a partir de 8 anos, mas veja, você que me lê e adulto que é, recomendo também que o leia, porque a versão intitulada “infantil” oportuniza novos olhares muito importantes sobre os povos originários, e não só para as crianças, mas para todos e todas que se dispuserem a tê-los.